🦊 Teoria queer, educação e conhecimento
Uma introdução diretamente da minha dissertação de mestrado
Em 2010, saí de Porto Alegre rumo a Goiânia para realizar meu mestrado em cultura visual, no qual estudei sobre educação e sexualidade. Ainda hoje, considero esse período que vivi em Goiânia como essencial para que eu pudesse experimentar que tipo de pessoa queria ser.
Acho curioso como, revisitando as referências que me atraíram ao longo do tempo, muitas delas apontam para direções semelhantes. Zen budismo, aikido, cultura visual, teoria queer, comunicação não-violenta, facilitação, educação freiriana, feminismo, ciências contemplativas, ética baseada em compaixão…
Por conta disso, resolvi revisitar minha dissertação de mestrado e compartilhá-la aqui no Olhar de Raposa. Separei trechos que introduzem a ideia de teoria queer e que problematizam as noções de educação e conhecimento. Por favor repare que esses trechos foram escritos em 2012, então as discussões teóricas podem ter avançado. Isso dito, ainda acredito que o texto faz sentido e vale ser lido.
Daqui para a frente, com exceção das músicas, da imagem e da parte final, são recortes diretos da minha dissertação.
Para deixar tocando de fundo na leitura da próxima parte:
Teoria queer
A teoria queer tem me servido de ferramenta para desmontar noções essencialistas, posto que ela se preocupa com sexualidades não normativas e inicia suas discussões reunindo reflexões oriundas do feminismo, do pós-estruturalismo e dos estudos gays e lésbicos.1 A teoria queer não é um corpo fixo e identificável de postulados teóricos acerca de gênero e sexualidade e, assim como a cultura visual, nasce de uma inquietação frente a temas que precisam ser reinterpretados a partir de novas matrizes de significação. Também como a cultura visual, se propõe a ser muito mais uma tática do que uma regra, uma ferramenta de uso fluido e de estranhamento.
O queer que acompanha e nomeia a teoria surge como uma jocosa ironia, na medida em que se apropria de um xingamento para se posicionar criticamente a favor do ofendido. Traduzindo do inglês, queer significa estranho, e por derivação passa a significar bixa, viado, sapata. É aquilo que não se encaixa e causa desgosto, que não pertence. A língua portuguesa não possui uma tradução que concentre adequadamente a carga histórica que o termo queer possui nos Estados Unidos, onde frequentemente era utilizado para atacar e condenar sujeitos cujas sexualidades não se conformavam às expectativas normativas. Enquanto termos como “bixa” e “transviado” possam soar semelhantes, eles reduzem o xingamento ao masculino, ignorando o feminino e prestigiando binários contra os quais a teoria se opõe. Por conta dessa dificuldade de tradução, seguirei trabalhando com o conceito em inglês, a fim de preservar o seu sentido e, principalmente, o seu potencial de disrupção de sentido.
Tomado como ponto de partida para uma ressignificação, os teóricos assumem-se como estranhos e como corruptores: a teoria queer não tem a intenção de ser mais um campo teórico, mas sim de questionar estabilidades, e por isso mesmo é tão difícil defini-la, uma vez que torná-la completamente inteligível esvaziaria sua força e potencial subversivo. Envolve teorizar o esquisito e, ao mesmo tempo, estranhar a teoria.2 Mais do que se limitar ao estudo de gays e lésbicas, a teoria queer confronta noções de identidades fixas, classificações binárias e suas consequentes exclusões, focando esforços na compreensão dos papéis exercidos socialmente por aqueles sujeitos que ocupam posições ininteligíveis aos olhos das normas.
O ponto de vista queer não cria um ‘verdadeiro’ ponto de vista, mas a própria exclusão das identidades queer dos discursos normativos de sexualidade revelam as contradições e fissuras nesses discursos. A partir dessa perspectiva, identidades sexuais e de gênero são vistas se sobrepondo com raça, etnia e nacionalidade, de modo a questionar como a própria identidade, um termo muito privilegiado na década passada, deveria ser concebida.3
O queer não apenas é estranho e fora de lugar, ele também é ignorado, esquecido e negado. Os sujeitos que não se identificam com os discursos normativos das sexualidades na sociedade contemporânea ocidental estão relegados a uma existência inferior: são reconhecidos como desviantes, mas seu “desvio” não gera reflexão, é assumido como essencialmente errado ou, quando muito, como uma diferença que devemos aceitar e incluir.
É fácil pensar que queer institui uma categoria de identidade, um tipo de sujeito que não corresponde às normas. Contudo, Morris4 nos pergunta e alerta: “Essa categoria simplesmente instala um outro binarismo – queer ou não queer? Nós poderemos em algum momento dissolver o pensamento binário como um todo, e seria essa estratégia do não-binarismo sequer útil?”. Se pensarmos a definição de queer como simplesmente aquilo que não está normalizado, temos imediatamente uma normalização do que é ser queer. O estranho, subversivo e incompreensível passa a estar domado, controlado e seguro, sendo mais um conhecimento pronto para ser anexado em dicionários e para que pesquisadores possam identificar com certa facilidade: “isso é queer, isso é normal”. Uma vez compreendido e aceito, o poder que se instalaria pela dúvida se perde, dando lugar novamente às certezas.
Não devemos nos esquecer que, como nos alerta Britzman,5 o queer não está nos atores, mas sim nas ações. Nomear um determinado grupo como queer é posicioná-lo fora da normalidade, mas antes de tudo significa posicioná-lo, estabilizá-lo. Esse é um movimento (e congelamento) ao qual a teoria queer não pode se permitir: o queer está no trânsito, no cruzamento de fronteiras e na indefinição de identidades. Não há como uma determinada identidade ser subversiva permanentemente, em qualquer espaço ou instante. A partir do momento em que for compreendida e nomeada, ela passa a não causar mais o impacto da indefinição.
O reconhecimento do ‘outro’, daquele ou daquela que não partilha dos atributos que possuímos, é feito a partir do lugar social que ocupamos. De modo mais amplo, as sociedades realizam esses processos e, então, constroem os contornos demarcadores das fronteiras entre aqueles que representam a norma (que estão em consonância com seus padrões culturais) e aqueles que ficam fora dela, às suas margens. Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada.6
Citando Berry, a respeito da forma como a “cultura do individualismo” espera que os sujeitos não mudem, Doll7 aponta: “Não importa de que forma o sujeito é reto [em inglês a palavra straight significa também heterossexual, e pode ser compreendida também como honesto ou normal], apenas que todas as perversões sejam amaciadas, de forma que a pessoa seja identificada completamente e sem ambiguidade”. A teoria queer nos alerta para questionarmos categorias de identidade tais como “homossexual”, “travesti" etc., mas também sugere que levemos em consideração quais são os poderes e raízes históricas por trás da instituição e manutenção da heterossexualidade enquanto norma.
Um sujeito nasce já inserido numa trama de expectativas e normatizações que estabelecerão um campo de confronto entre ser normal ou desviante em uma infinidade de critérios, e creio que é menos importante saber a origem de seus desejos do que pensar a respeito dos efeitos que eles têm sobre essa trama e, principalmente, dos esforços engendrados para conter esse alegado desvio; não podemos esquecer que a própria existência do desvio permite perceber que os fios dessa trama não só são instáveis, como também são impostos e insuficientes.
Atravessando esta dissertação há algumas perguntas que Villela e Ratto8 resumem muito bem: “Afinal de contas, por que fazemos as coisas do jeito que fazemos?! Por que adotamos os referenciais que adotamos?! Em que projeto de existência, para nós próprios e para os outros, inscrevem-se as escolhas teóricas e operacionais que fazemos?!”. Essas questões assumem particular importância quando temos em mãos um projeto de educação, de criar espaços e momentos que potencializem as aprendizagens daqueles que estão sob nosso cuidado, sejam estudantes em escolas, sejam cursistas do ensino superior.
Na próxima parte, recomendo essa música como trilha sonora:
Educação
Tenho me apoiado, como base para refletir a respeito dessas inquietações, na vinculação entre educação e os dois corpos teóricos (ou caixas de ferramentas) que vêm me acompanhando nesta pesquisa: na educação da cultura visual, que busca “destaca[r] as múltiplas representações visuais do cotidiano como os elementos centrais que estimulam práticas de produção, apreciação e crítica de artes e que desenvolvem cognição, imaginação e sentimento de justiça”,9 ou, nas palavras de Nascimento,10 “gerar desconfianças interpretativas na maneira como estamos acostumados a ver, pensar, fazer e dizer”; e na pedagogia queer, entendida como “o que acontece quando aplicamos a teoria queer à pedagogia”,11 reforçando seu olhar questionador de normatizações e de identidades fixas.
O termo pedagogia, quando ligado a adjetivos tais como crítica, feminista e multicultural já aponta para uma tentativa de subverter a crença moderna do professor como a instituição máxima do conhecimento e do estudante enquanto um adulto em formação, ainda incompleto pela falta dos saberes necessários para estar pronto. O queer da teoria se anexa à pedagogia para oferecer recursos de questionamento a respeito da normalização e naturalização que a escola engendra e para oferecer críticas à rigidez e falta de consideração a temas como a (homo)sexualidade,12 inclusive percebendo e destacando que o aprender não se encontra confinado a um espaço previamente determinado e à atuação de um maestro/professor.
Os cruzamentos entre as duas perspectivas são produtivos para refletir e buscar interpretações alternativas às tradicionalmente feitas sobre e por sujeitos marginalizados. Ambas dialogam entre si buscando ampliar as possibilidades de entendimento, no lugar de encerrá-las a uma verdade ou modelo de correção. Além disso, também atentam para as relações de poder que naturalizam e normatizam compreensões acerca de sujeitos, representações e experiências, enquadrando-os em posições específicas.
Como um professor que trata sobre (homo)sexualidades, tenho enfrentado o desafio constante de projetar propostas de ensino e ambientes de aprendizagem que sejam ao mesmo tempo eficazes no objetivo de compartilhar saberes e amplos o bastante para que não se reduzam a um ponto de vista particular e reducionista. Não posso ignorar, contudo, que essa é uma escolha que já exclui temas e interpretações que poderiam ser abordados em cursos cujos fins sejam outros e que minha afiliação à cultura visual e teoria queer me coloca em uma posição diferente do que a assumida por sujeitos que não compartilhem desses embasamentos. É particularmente difícil não considerar outras posturas equivocadas ou incorretas, mas se trata de um desafio que acredito ser fundamental para o tipo de educação que antevejo, ou seja, uma forma de aprendizagem que não se aceite opressiva e que se permita duvidar de si própria ou ouvir a vozes que anunciem posições diferentes.
Uma das abordagens mais comuns que tenho observado no tratamento da homossexualidade em contextos escolares é a tentativa de incluir esses sujeitos e suas práticas no círculo da normalidade. A busca por inclusão reitera uma noção que deve ser analisada mais detidamente: a da aceitação do diferente. Essa postura relaciona-se com a ideia de uma generosidade por parte dos normais, que estão se predispondo a permitir que os anormais tenham espaço legitimado, assim como com a crença de que o grupo excluído necessita de maior autoestima, podendo buscar aumentá-la através de representações positivas de sua existência. Britzman questiona, ainda, a validade de uma política de tolerância, marcada pela apresentação e representação das minorias, que em teoria seria legitimada pela ideia de que as pessoas se identificariam com os modelos propostos. Não somente, essa perspectiva alimenta a noção de que os sujeitos normalizados reconheceriam as diferenças e as aceitariam: “mas como, exatamente, deve acontecer a identificação com um outro se somos requeridos apenas a tolerar e, portanto, confirmar nós mesmos como generosos?”.13
A postura de enxergar o outro como um inferior que precisa de ajuda pode, portanto, encaminhar as tentativas de inclusão para um mero emparelhamento com as representações de heterossexuais, o que Luhmann desaprova:
Essa abordagem sustenta-se em um conjunto de suposições comuns às políticas lésbicas e gays, que são consequências da noção de que a homofobia é pouco mais que um problema de representação, um efeito da falta ou distorção de imagens de lésbicas e gays. Muitos veem como solução aprender a contestar retratos de lésbicas e gays como doentes, sexualmente pervertidos, infelizes e antissociais. Contra apagamento ou distorção, a estratégia padrão lésbica e gay exige representações precisas, ou seja, positivas, de vidas lésbicas e gays.
Se a homossexualidade é compreendida como um desvio em relação à norma da heterossexualidade, então a representação positiva dessa identidade estaria na repressão de características que pudessem se configurar como destoantes da expectativa de um comportamento considerado adequado. Isso inclui relações não monogâmicas, práticas sexuais como submissão e sadomasoquismo, seguindo o axioma da hierarquização discutido por Rubin14 e apresentando um limite bastante claro à noção de tolerância: ela pode existir, contanto que seja apenas até certo ponto. Só ganham acesso à inclusão aqueles que se assemelham com a norma heterossexual monogâmica, o que justifica as lutas que atualmente ocorrem em torno da legalização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, mas também explica o silêncio que existe em torno de sujeitos transexuais e a conivência pública com violências físicas e morais contra indivíduos cujas ações dificultam que sejam imediatamente posicionados em algum critério inteligível e comparável à norma. “Seja gay, mas não pareça uma mulherzinha” e “Não tenho problema com homossexuais, contanto que não deem em cima de mim” são declarações que exemplificam essa postura de inclusão limitada.
Ao indicar tais contradições que resultam da ideia de inclusão, não estou posicionando-me contra iniciativas que tenham esse objetivo. Representações positivas de sujeitos marginalizados são bem-vindas, pois os inserem em espaços que usualmente não ocupam ou não são vistos ocupando. Porém, creio com Silva15 que “antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é ativamente produzida”. Entender como são produzidas as diferenças que dão contorno para as identidades e em que medida elas são estabelecidas ou alteradas discursivamente é uma preocupação que deve ser levada em conta.
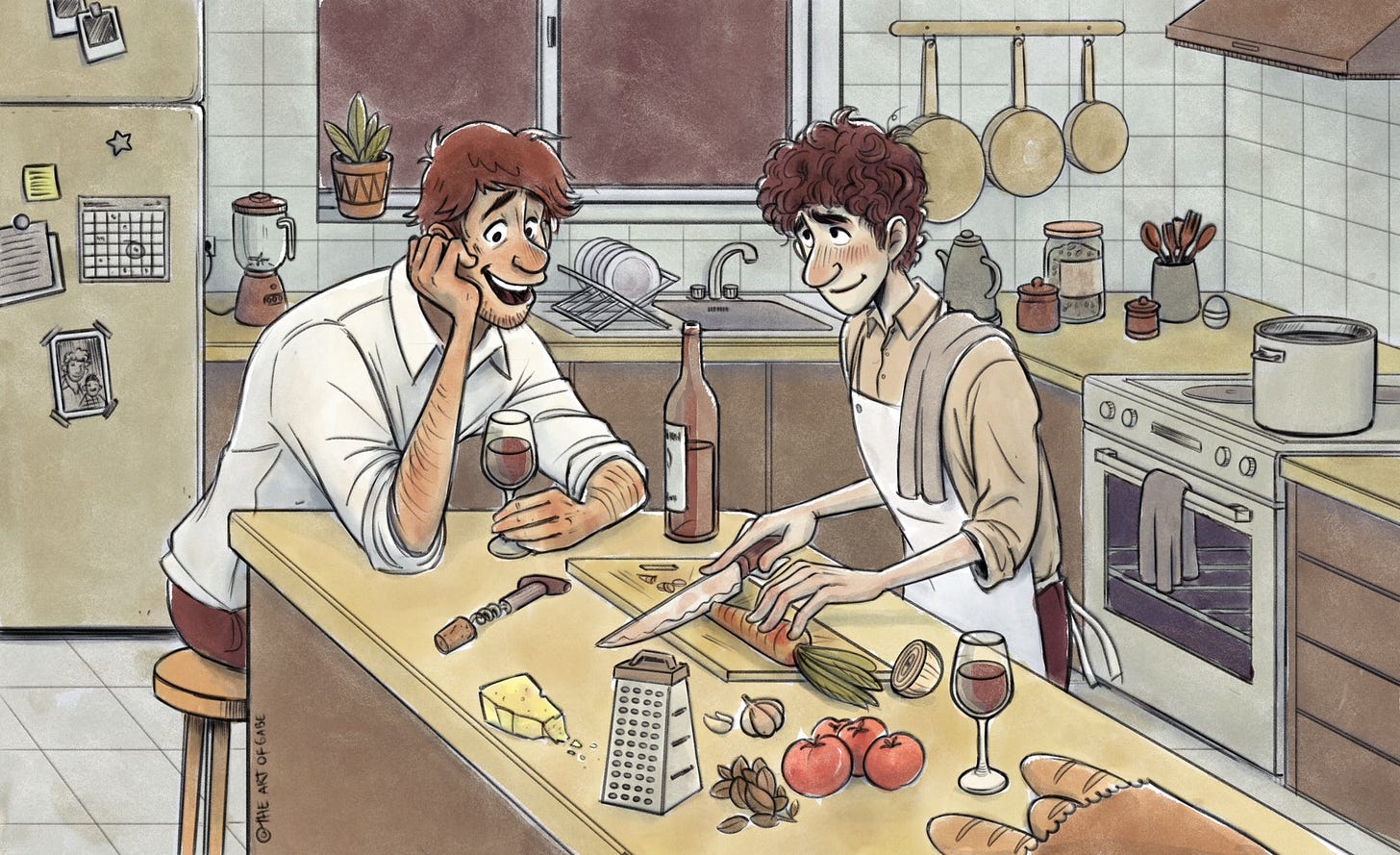
Conhecimento e saberes
Levando em consideração o caminho que essa investigação percorreu até este momento, não posso deixar de perguntar: o que o saber sobre homossexualidade significa para os sujeitos que “sabem”? O que fica ignorado quando nos apropriamos de um conceito e passamos a nos relacionar com ele? Qual a importância desses saberes e ignorâncias dentro do contexto da educação? Essas questões não dizem respeito somente aos professores, mas envolvem também pensar nos estudantes e, ainda, em quem pesquisa. É necessário se perguntar o que significa conhecimento, que, segundo Martins e Tourinho,16 é sempre
contextual e circunstancial e esta condição de provisoriedade delineia e até mesmo delimita nossos modos de ver o mundo, de nos posicionarmos diante de fenômenos, do outro e de nós mesmos. O que sabíamos, ou dizendo melhor, pensávamos que sabíamos num determinado momento (no tempo) pode mudar, assim como também pode mudar o relato, o evento e, consequentemente, a narrativa.
Segundo o dicionário Houaiss, conhecimento está diretamente envolvido com aquilo que percebemos ou compreendemos por meio da razão e/ou da experiência. Por outro lado, a ignorância figura como a ausência de conhecimento ou experiência. Uma breve visita ao dicionário revela não apenas significados, sinônimos e proximidades entre termos, mas também aponta para reflexões que podem ser feitas a partir deles. O termo espírito, por exemplo, estabelece uma separação no ser humano entre uma parcela material, presumivelmente o corpo, e outra imaterial, a mente. Essa separação entre os dois vincula um padrão de pensamento que coloca “a alma” como espaço privilegiado da “aquisição de conhecimento”, relegando o corpo a uma segunda grandeza, a uma função meramente operacional de receptáculo dessa alma. Esse entendimento mostra-se contraditório na medida em que nossos saberes são frutos diretos da experiência, que é sofrida (tanto no sentido de atravessada quanto no de dor) pelos sentidos, ou seja, pela percepção, que ocorre na parcela material do ser humano, o corpo. Para aceitar essa dicotomia e a superioridade da mente sobre o corpo, é necessário esquecer ou ignorar a relação material entre o sentir, ou o experimentar, e o aprender.
O aprender mobiliza e altera a memória, o registro e a lembrança de experiências que, de alguma forma, nos marcaram. Ao aprender algo novo, nosso modo de olhar se transforma e com ele muda não apenas o que percebemos no presente e futuro, mas também a relação que temos com aquilo que guardamos na memória. Ou seja, a partir do momento em que construímos um novo conhecimento ou forma de saber, essa mudança nos impacta para além do que seremos: ela interfere também no que pensamos a respeito de quem somos e fomos. A posição que ocupávamos muda, nos obrigando a acostumar com um outro lugar. Essas reverberações desestabilizam: o novo é construído a partir da rearticulação do que já estava assentado e organizado. Ele é, portanto, sofrido, causa dor e estressa o que estava em harmonia, levando o organismo a disparar um processo de adaptação. Não se pode dizer, portanto, que aprender é um processo puramente racional, termo que usualmente ganha sentido quando contraposto com emocional.
Considero importante ter em conta que se pode aprender em qualquer lugar ou situação, não apenas nos autorizados para tanto. As experiências atravessam nossos sentidos e nos marcam, modificando ou não nosso jeito de agir, de perceber e de reagir. A educação não está limitada à escola ou à relação existente entre alguém que, de um lado, ensina, e alguém que, do outro, aprende. A estrutura professor-aluno não responde a todos os processos de construção de novos saberes pelos quais um sujeito pode passar. O conhecimento não é transferido de uma pessoa para outra, depositado num esforço de ensino unilateral. Em uma sala de aula, aprende-se com o que o professor diz, com o que ele não fala, com o jeito que ele discursa, seus gestos e olhares, com as reações dos colegas, com as conversas, as trocas de material etc. São infinitos os trânsitos de sentido pelos quais um sujeito pode passar ao longo de um dia, na escola ou não. Muitas vezes não precisamos de um professor para que determinados conhecimentos se tornem parte de nossas experiências de vida. Outras tantas jamais são compreendidas por conta de uma relação inamistosa com a pessoa que se dispõe a ensinar, ou são entendidas de uma maneira diferente. As variáveis são inúmeras, o que deve sempre nos servir de alerta para que não nos prendamos a um modelo único de educação correta, sob o risco de seguirmos ignorando os interesses dos estudantes e produzindo espaços que não são seguros para que eles se sintam livres para existirem enquanto sujeitos que podem não pertencer ao restrito espectro da normalidade.
Venho tecendo essas articulações entre sentidos e formas de entendê-los para colocar em xeque a noção binomial do conhecimento, sobre a qual comecei a tratar no capítulo anterior, que prevê oposições binárias como matrizes explicativas para a realidade. Essas dicotomias estabelecem diferenças de ordem qualitativa, bom e ruim, bem e mal, e ao mesmo tempo instauram um pensamento que não é ecológico, que ignora a maneira como todos os elementos existem em interação constante e complexa. Não há mente sem corpo, tampouco é possível sugerir que algo é bom se, ao seu lado, não posicionarmos algo que nos ilumine o que é mau. O mesmo vale para as construções de corpo, macho e fêmea, gênero, homem e mulher, e desejo, heteros e homo. Quando entendidos dentro de relações complexas, esses conceitos binários apresentam vazamentos nas suas definições que, portanto, fragilizam sua aparente coesão. Uma ação dificilmente poderia ser caracterizada como essencialmente boa sem levar em conta para quem, quando, onde, em que contexto, por quem etc. O mesmo vale, no campo da sexualidade, para um heterossexual que transe com um sujeito do mesmo sexo, porém siga se identificando enquanto não homossexual. Não basta compreender de que maneira o pensamento binário é prejudicial aos sujeitos posicionados nos lados negativos das dicotomias, caso das mulheres e dos homossexuais. É preciso entender que os binarismos são insuficientes para explicar todas as possibilidades existentes e, portanto, sintomas de raciocínios incompletos.
Deborah Britzman17 sugere, para uma pedagogia que se possa dizer queer, o que chama de três técnicas: o estudo dos limites, da ignorância e das práticas de leitura. Para a autora, é muito importante considerar o que temos permissão para pensar e que perguntas não deveríamos fazer dentro da sociedade com a qual negociamos. Desse ponto de vista, é necessário questionar os limites impostos ao saber e duvidar dos conhecimentos já estabelecidos, em particular os que se sustentam em oposições binárias. O que define, e a partir de quais critérios, que tópicos são relevantes de serem pensados em determinados contextos? Pensar os limites significa também levar em consideração de que forma a normalidade é produzida e que efeitos ela tem, principalmente (mas não apenas) nos sujeitos que se situam fora dela. A teoria queer “constitui normalidade como uma ordem conceitual que se recusa a imaginar a própria possibilidade do Outro precisamente porque a produção da alteridade como externa é central para seu próprio autorreconhecimento”.18 Aos nos preocuparmos com os limites, também surge o questionamento sobre quando acreditamos que sabemos o suficiente sobre uma outra pessoa ao ponto de nos crermos capazes de falar sobre (por) elas ou de determinar o que devem saber ou não.
A ignorância, num entendimento queer, não se trata do oposto ao conhecimento ou da falta deste. Ela é, na verdade, um efeito do modo como se conhece, uma relação com as informações que opera de tal maneira a colocar o sujeito em posição de não interagir com determinados conhecimentos. Portanto, antes de se perguntar por que um indivíduo não compreende algo que cremos que ele deva aprender, é essencial buscar de que saberes ele dispõe e quais considera pertinentes para a sua vivência.
Isso é mais do que um problema de abordar a ignorância como uma discordância ou resíduo de cegueira ideológica. Entender a ignorância não como uma falta de consciência (política), mas como uma resistência ao conhecimento, pode permitir que os professores se tornem mais curiosos acerca da questão da resistência. Ao invés de repudiar o aluno resistente como ignorante, problemático ou politicamente inocente, nós podemos começar a perguntar sobre as condições e limites do conhecimento, e o que se pode suportar saber. Onde a resistência ao conhecimento está localizada? Onde um texto deixa de fazer sentido para o estudante? Onde o colapso do significado ocorre? (Como) pode o professor trabalhar através da recusa em aprender? O que há para aprender da ignorância?19
O modo como o sujeito interage com o mundo, os textos que lê, as imagens de que se apropria: sem a compreensão dessas questões o ensino fica comprometido. É necessário entender qual a posição desse sujeito estudante, de que forma ele entra em contato com um conhecimento diferente daquele que ele já carrega como parte de si e como se dá a sua relação com o desconhecido. De que maneiras o que ele não conhece reorganiza, desmonta ou bloqueia seus pensamentos? Como se estabelecem conexões com o que ele já conhece, de que forma um texto muda ao ser lido por ele em um momento ou em outro? Qual é o esforço, impacto ou estresse produzido ou exigido para lidar com o que ainda não se sabe, ou para deixar de conhecer algo de uma determinada maneira? Conforme comenta Gablik,20 existe um forte investimento emocional nas posições já ocupadas pelos sujeitos, uma vez que elas constroem a realidade com a qual eles estão acostumados.
Requisitar que uma pessoa desmonte suas compreensões anteriores, revisite conceitos e reorganize toda sua existência não é um convite simplório. É preciso entender que, como recorda Britzman, não é uma mera questão de recusa ou resistência ao conhecimento, mas o conhecimento que se tem é uma forma de resistência.
Adquirir novos conhecimentos é um processo que desestabiliza e desorienta, pois reconstrói em alguma medida a forma como víamos e pensávamos anteriormente. Que prazer há em buscar essa desarticulação? Se aprender nos desestrutura, esse processo só nos será prazeroso se a sua promessa de prazer for melhor do que se tem antes dele, se acreditarmos que vale a pena. Do contrário, faz sentido resistir ao conhecimento, ou seja, ignorar. Uma das razões mencionadas por Luhmann para a ignorância é a crença de que o conhecimento que se tem já é o bastante. Aprender torna-se um investimento, ao qual evitar/ignorar é uma resposta plausível se o resultado imaginado não for mais prazeroso que o estado atual. Questões de sexualidade frequentemente dizem respeito a como os sujeitos entendem aos outros e também a si próprios; mudar esses conceitos, especialmente quando situado em posições seguras de privilégio ou normalidade e, portanto, inquestionadas, implica na necessidade de rever a si mesmo e de reaprender a estar no mundo.
Lutar contra comportamentos e situações que se mostrem opressivos a sujeitos por conta de características e ações pessoais que não dizem respeito a outros indivíduos é o que tem me motivado a insistir na minha construção como pesquisador e educador. Auxiliado pela cultura visual e pela teoria queer, o ato de percorrer esse caminho não tem sido reto como se poderia esperar, tampouco claro e sem desvios.
De volta a 2023
Ufa, pausa para respirar depois dessa leitura acadêmica. 🤓
Respira, respira.
Por anos, olhei para a minha dissertação como o registro de um processo que foi falho. Eu acreditava que minha pesquisa tinha sido insuficiente, pouco profunda, e portanto que o mestrado não havia sido aproveitado ao seu máximo.
Esse olhar duro sobre como realizei minha pesquisa é fruto da minha busca por mais lucidez, por mais qualidade, por mais excelência. Consigo reconhecer que esse texto e minha pesquisa poderiam ser melhores.
Penso que me afastei da vida acadêmica porque estava contaminado com a ideia de que não era bom o bastante para ela. Tinha lucidez o suficiente para perceber o que poderia ter sido melhor, mas me faltava leveza e autocompaixão para reconhecer que naquele momento foi o que pude produzir.
O Tales de 2012 ainda não tinha criado nem vivido tudo o que o Tales de 2023 já criou e produziu. Não tinha ainda escrito livros, ensinado pessoas e reconhecido a importância de cultivar comunidades. E ainda assim foi capaz de mudar de cidade, morar sozinho, escrever uma dissertação e plantar as sementes de um futuro lindo.
É desse jeito que quero olhar para o passado: com respeito e gentileza.
Esse é o olhar de raposa. 🦊
Com carinho,
Tales
JAGOSE, Annamarie. Queer theory: an introduction. New York: New York University Press, 1996.
LUHMANN, Susanne. Queering/Querying pedagoy? Or, pedagogy is a pretty queer thing. In: PINAR, William (Org.). Queer theory in education. New York e London: Routledge, 1998.
MIRZOEFF, Nicholas. An introduction to visual culture. Routledge: New York e London, 2004.
MORRIS, Marla. Unresting the curriculum: queer projects, queer imaginings. In: PINAR, William (Org.). Queer theory in education. New York e London: Routledge, 1998.
BRITZMAN, Deborah. Is there a queer pedagoy? Or, stop reading straight. Educational Theory, v. 45, n. 2, p. 151-165, 1995.
LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
DOLL, Mary. Queering the gaze. In: PINAR, William (Org.). Queer theory in education. New York: Routledge, 1998.
VILLELA, Marcos e RATTO, Cleber. Virtude é coisa que se ensina? O lugar do cuidado na formação. In: MARIGUELA, Márcio; FACCIOLI, Ana Maria e DE SOUZA, Regina (Orgs.). Que escola é essa? Anacronismos, resistências e subjetividades. Campinas: Alínea, 2009.
DIAS, Belidson. O i/mundo da educação em cultura visual. Brasília: Editora da pós-graduação em arte da Universidade de Brasília, 2011.
NASCIMENTO, Erinaldo. Singularidades da educação da cultura visual nos deslocamentos das imagens e das interpretações. In: MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da cultura visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Editora UFSM, 2011.
SHLASKO, G. D. Queer (v.) pedagogy. Equity & excellence in education., v. 38 n. 2, p. 123-134, 2005.
LUHMANN, Susanne. Queering/Querying pedagoy? Or, pedagogy is a pretty queer thing. In: PINAR, William (Org.). Queer theory in education. New York e London: Routledge, 1998.
BRITZMAN, Deborah. Is there a queer pedagoy? Or, stop reading straight. Educational Theory, v. 45, n. 2, p. 151-165, 1995.
RUBIN, Gayle. Thinking sex: notes for a radical theory of the politics of sexuality. In: ABELOVE, Henry; BARALLE, Michèle; HALPERIN, David (Orgs.). The lesbian and gay studies reader. New York and London: Routledge, 1993b.
SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: ______ (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petropolis: Vozes, 2000.
MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. Pesquisa Narrativa: Concepções, práticas e indagações. In: II Congresso de Educação, Arte e Cultura: confluências e diálogos no campo das artes. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria/Laboratório de Artes Visuais, 2009. v. 1. p. 1-12.
BRITZMAN, Deborah. Is there a queer pedagoy? Or, stop reading straight. Educational Theory, v. 45, n. 2, p. 151-165, 1995.
BRITZMAN, Deborah. Lost subjects, contested objects: toward a psychoanalytic inquiry of learning. Albany: State university of New York Press, 1998.
LUHMANN, Susanne. Queering/Querying pedagoy? Or, pedagogy is a pretty queer thing. In: PINAR, William (Org.). Queer theory in education. New York e London: Routledge, 1998.
GABLIK, Suzi. Reenchantment of art. New York: Thames Hudson, 1994.




Uau! Que aula! Inclusive eu tenho uma dúvida que continua pairando aqui. Em Berlim se usa bastante o termo “queer” para falar da comunidade LGBTQIA+, mas raramente vejo a sigla. Uma vez citei “queer” na minha aula de inglês e minha professora, que é de ny, me corrigiu que eu deveria dizer as siglas. As discussões que tive por aqui pra entender se há diferença, me levam ao entendimento que “queer” é atrelado à política. Como vc entende essa diferença? Ou não há?
Me mandaram esse post e eu lembrei do nosso papo: https://www.instagram.com/p/CpQvRw-vCxP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=